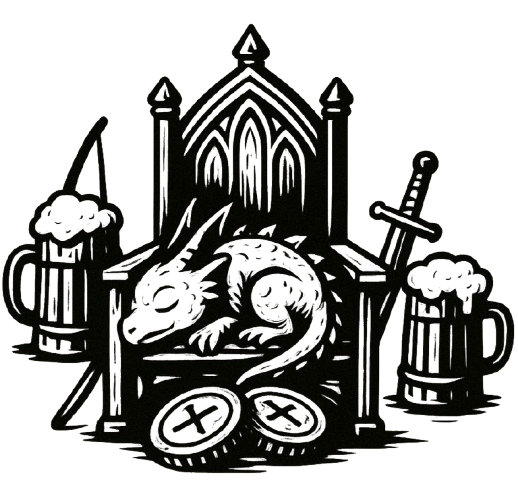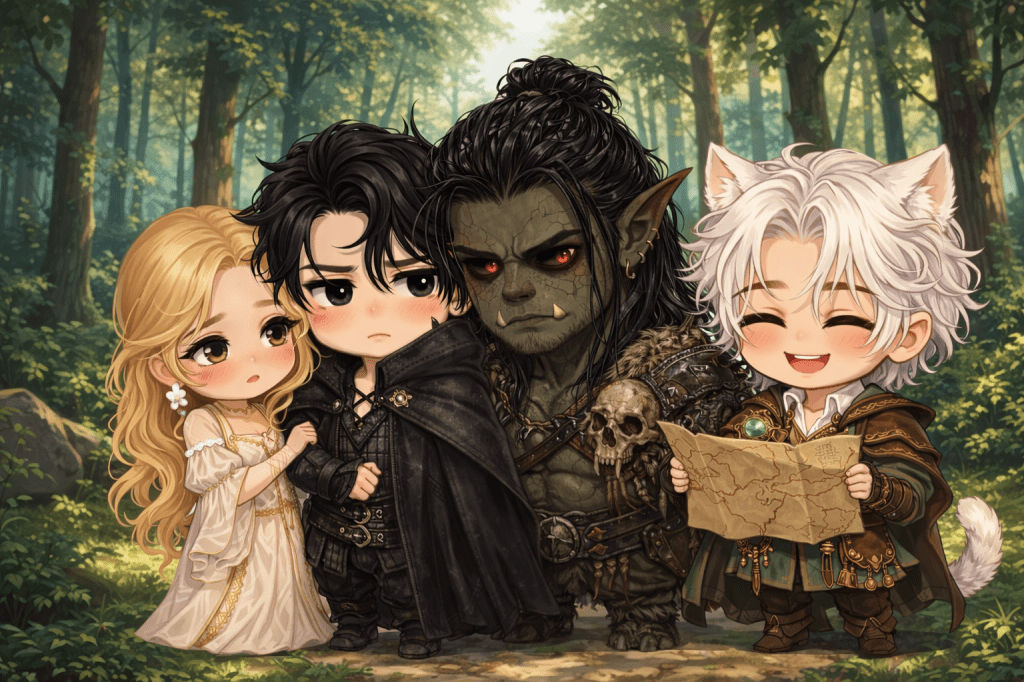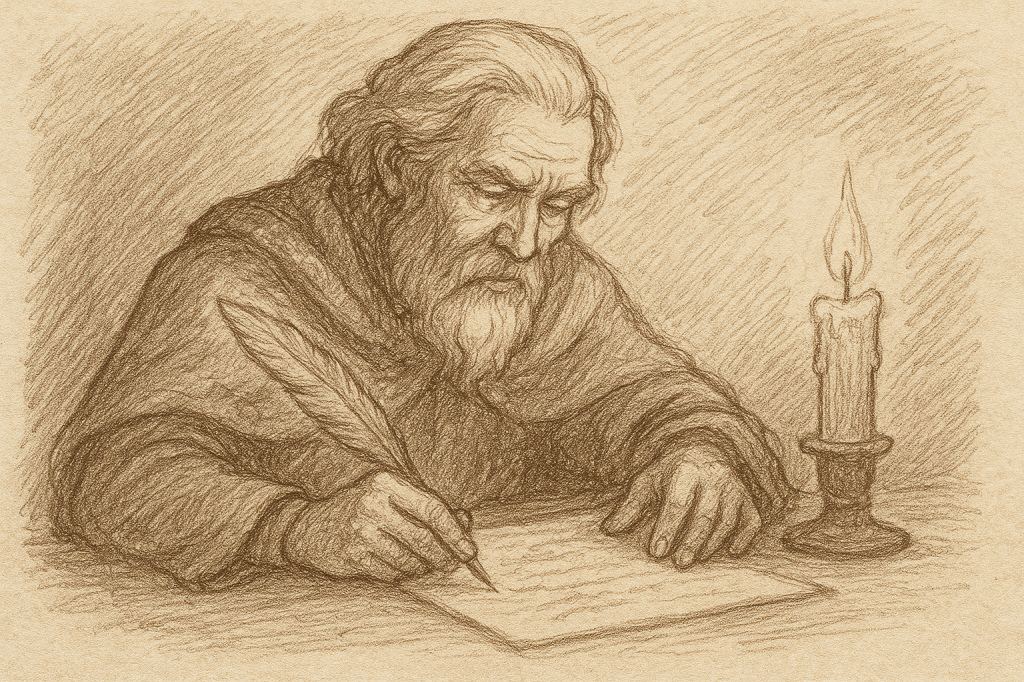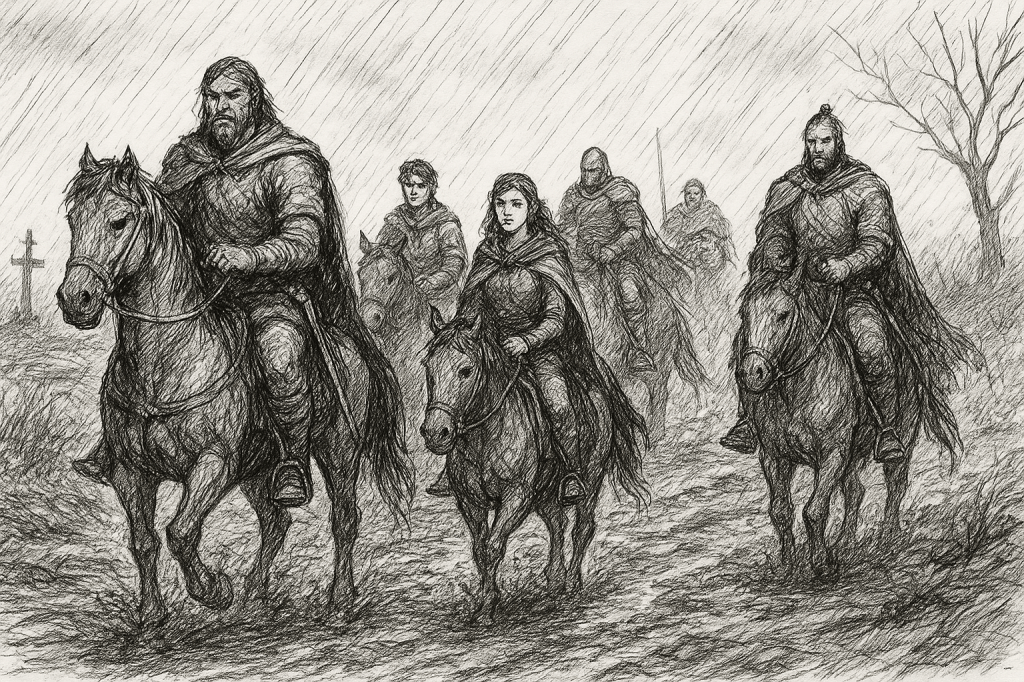A taverna cheirava a cerveja derramada, gordura quente e vitória mal paga. No pequeno palco improvisado, Vaelorn girava uma lâmina maior que o próprio braço, inclinando o corpo como quem dança com a morte — e vencendo, claro. O público prendia a respiração. O grupo não.
Malakias estava sentado como se a cadeira lhe devesse dinheiro. Braços cruzados. Caneca intacta.
Durgan já estava na terceira.
Kael tinha subido na mesa uma vez e descido duas, o que ninguém entendeu, mas todos aceitaram.
Alyra observava a espada desaparecer na garganta de Vaelorn com um misto de fascínio e lembranças que ela não comentou.
— Eu só quero registrar — começou Kael, balançando o rabo felino atrás de si — que se não fosse o meu mapa, vocês ainda estariam discutindo qual caverna tinha menos cheiro de ogro.
Durgan bufou.
— Seu mapa estava de cabeça para baixo.
— Perspectiva artística.
— Você chamou o norte de “provavelmente por ali”.
Kael sorriu, sem vergonha alguma.
— E estava! Eventualmente.
Alyra levou a caneca aos lábios, olhos ainda no palco.
— Se não fosse o “provavelmente”, nós não teríamos encontrado a entrada lateral. Aquela que não estava guardada.
Malakias resmungou, sem olhar para ninguém:
— Aquela que estava desmoronando.
— Detalhe estrutural — rebateu Kael. — A caverna caiu depois que você explodiu metade do teto.
— Eu não explodi metade do teto.
Durgan inclinou-se para frente.
— Explodiu.
— Eu calculei.
— Você calculou errado.
Malakias finalmente pegou a caneca e bebeu.
— Funcionou.
Silêncio breve. Todos assentiram.
Funcionou.
No palco, Vaelorn retirava a espada devagar, intacta, arrancando aplausos e algumas promessas de casamento bêbadas.
Kael apontou para ela.
— Viu? Técnica. Controle. Precisão. Igualzinho a mim.
— Você tropeçou em uma raiz — disse Alyra, seca.
— Aquela raiz me atacou primeiro.
Durgan soltou um meio-riso.
— Você gritou.
— Eu vocalizei estrategicamente.
Alyra virou-se para Malakias.
— E você? Vai fingir que não ouvi quando o ogro chamou você de “palito sombrio”?
O canto da boca dele quase subiu.
— Eu ouvi.
— E não respondeu.
— Não era necessário.
Durgan bateu a caneca na mesa.
— Ele respondeu. Com aquela lança negra que atravessou dois ogros de uma vez.
Kael fez um gesto teatral com as mãos.
— Foi bonito. Poético. Quase romântico, se você ignora as vísceras.
Alyra observava Malakias com atenção mais suave agora.
— Você sempre entra na frente. Mesmo quando não precisa.
Ele deu de ombros.
— Alguém tem que entrar.
— Eu posso entrar — rosnou Durgan, sério.
— Eu sei — respondeu Malakias, simples.
E havia verdade ali. Não desafio.
Kael levantou a caneca.
— Um brinde ao orc mais estressado de Arton, que ainda assim paga a rodada quando ninguém percebe.
Durgan estreitou os olhos.
— Eu percebo.
— Mas paga mesmo assim.
Alyra riu, um riso leve que ainda soava novo nela. Não tinha mais o tom de quem pedia permissão para existir.
— Você quase perdeu o machado hoje — ela provocou.
— Eu nunca perco o machado.
— Ele ficou preso na porta.
— A porta estava mal posicionada.
— A porta estava parada — disse Kael.
Durgan cruzou os braços, mas o olhar já não era duro.
— E você, Alyra? — perguntou ele. — Aquela oração… não era comum.
Ela ficou em silêncio por um segundo, encarando a espuma da bebida.
— Não foi uma oração. — Respirou fundo. — Foi… memória muscular da fé.
Kael inclinou a cabeça.
— Funcionou.
— Funcionou — confirmou Malakias.
Ela ergueu os olhos para ele.
— Você confiou.
— Eu estava ocupado demais sangrando para duvidar.
Isso arrancou uma gargalhada de Kael.
— É o jeito dele dizer “obrigado”.
Malakias revirou os olhos.
— Não é.
— É sim.
Durgan apontou a caneca para Alyra.
— Você nos manteve de pé.
Ela hesitou. Ex-clériga. Ex-mercadoria. Ex-nobre. Nada disso cabia na mesa agora.
— Eu só… não queria que ninguém caísse.
Malakias falou antes que o silêncio crescesse:
— Então fez o que precisava.
Simples. Direto. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo.
No palco, Vaelorn inclinou-se para o público e piscou para a mesa deles. Kael levou a mão ao peito como se tivesse sido atingido por flecha invisível.
— Ela piscou para mim.
— Ela piscou para a mesa — corrigiu Durgan.
— Detalhe técnico.
Alyra sorriu, apoiando o queixo na mão.
— Vocês são mercenários terríveis.
— Somos excelentes — retrucou Kael.
— Somos pagos — corrigiu Durgan.
Malakias terminou a caneca.
— Estamos vivos.
Silêncio curto. Denso. Verdadeiro.
Alyra olhou ao redor da taverna, para o barulho, para a música, para o absurdo de estar ali, rindo com homens que carregavam cicatrizes mais profundas que as visíveis.
— Eu me sinto… segura — disse, quase surpresa com a própria voz.
Durgan assentiu, firme.
— Enquanto eu respirar.
Kael ergueu a caneca outra vez.
— Enquanto eu tiver mapas artisticamente duvidosos.
Malakias levantou-se, pegando outra rodada sem pedir.
— Enquanto houver trabalho.
Ele colocou a caneca diante dela primeiro.
Não era entusiasmo. Não era delicadeza ensaiada.
Era compromisso.
No palco, Vaelorn já engolia outra espada, e a plateia explodia em aplausos.
A noite seguia. O mundo lá fora continuava perigoso, caótico, estranho — como sempre foi e sempre será.
Mas naquela mesa, entre acusações bobas e feitos exagerados, havia algo mais sólido que pedra.
Eles não sabiam onde se encaixavam no mundo.
Então estavam construindo um encaixe próprio.
E, por ora, isso bastava.